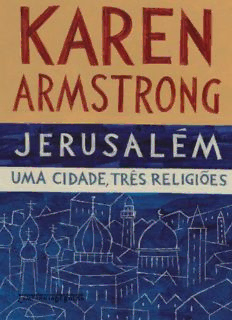Table Of ContentPara minha mãe, Eileen Armstrong
SUMÁRIO
Agradecimentos
Apresentação
1. Sião
2. Israel
3. A cidade de Davi
4. A cidade de Judá
5. Exílio e retorno
6. Antioquia da Judeia
7. Destruição
8. Aelia Capitolina
9. A Nova Jerusalém
10. A Cidade Santa dos cristãos
11. Bayt al-Maqdis
12. Al-Quds
13. As Cruzadas
14. Jihād
15. A cidade otomana
16. Revivescência
17. Israel
18. Sião?
Notas
Bibliografia
Relação de mapas e plantas
Sobre a autora
AGRADECIMENTOS
Escrever é uma atividade solitária, mas não exclui contribuições de
outras pessoas. Assim, gostaria de agradecer a meus agentes, Felicity
Bryan, Peter Ginsberg e Andrew Nurnberg, bem como a meus
editores, Jane Garrett e Stuart Proffitt, que me apoiaram e
incentivaram. Sou igualmente grata a Roger Boase, Claire Bradley,
Juliet Brightmore, Katherine Hourigan, Ted Johnson, Anthea
Lingeman, Jonathan Magonet, Toby Mundy e Melvin Rosenthal, que
me ajudaram com seus conhecimentos, sua paciência e seus conselhos.
Por fim, agradeço a Joelle Delbourgo, minha editora na Ballantine, que
foi a primeira pessoa a sugerir-me a elaboração deste livro e sempre
me honrou com seu entusiasmo e seu estímulo.
APRESENTAÇÃO
EM JERUSALÉM, mais que em qualquer outro lugar que conheço, a
História constitui uma dimensão do presente. Talvez isso ocorra em
qualquer território sob disputa, porém fiquei profundamente
impressionada quando fui trabalhar em Jerusalém pela primeira vez, em
1983. A força de minha reação à cidade me surpreendeu. Era estranho
caminhar por um lugar que fazia parte de meu imaginário desde a
infância, quando ouvi histórias do rei Davi e de Jesus. Mais tarde, no
convento, ensinaram-me a iniciar minha meditação matinal visualizando
a passagem bíblica sobre a qual devia refletir; assim criei minhas
próprias imagens do Getsêmani, do monte das Oliveiras, da Via
Dolorosa. Circulando por esses locais, descobri que a cidade real era
muito mais tumultuada e confusa. Tinha de admitir, por exemplo, que
Jerusalém era muito importante também para os judeus e os
muçulmanos. Os judeus de túnica ou de farda que beijavam as pedras
do Muro das Lamentações, as multidões de famílias muçulmanas que,
trajando suas melhores roupas, se dirigiam ao Haram al-Sharif para
fazer suas orações às sextas-feiras mostraram-me, pela primeira vez, o
desafio do pluralismo religioso. As pessoas conseguiam ver o mesmo
símbolo de maneiras totalmente diversas. Sem dúvida veneravam sua
cidade santa, porém sempre estiveram ausentes de minha Jerusalém. E,
no entanto, a cidade continuava sendo minha: as velhas imagens de
cenas bíblicas que eu visualizara no passado muitas vezes se
contrapunham a minha experiência direta da Jerusalém do século XX.
Relacionada com alguns dos fatos mais importantes de minha vida,
Jerusalém era parte inseparável de minha própria identidade.
Como cidadã britânica, eu não tinha nenhuma pretensão política em
relação a Jerusalém, ao contrário de meus novos colegas e amigos.
Enquanto israelenses e palestinos me expunham seus argumentos, eu
me surpreendia com a presença vívida de fatos do passado. Todos
falavam, às vezes com minúcias, dos acontecimentos que levaram à
criação do Estado de Israel, em 1948, ou à Guerra dos Seis Dias, em
1967. Percebi que esses retratos do passado com frequência giravam
em torno da mesma pergunta: quem fez o que primeiro? Quem
recorreu primeiro à violência: os sionistas ou os árabes? Quem
percebeu primeiro o potencial da Palestina e tratou de desenvolver o
país? Quem viveu primeiro em Jerusalém: os judeus ou os palestinos?
Ao discutir o presente conturbado, israelenses e palestinos
instintivamente se voltavam para o passado, e sua polêmica estendia-se
da Idade do Bronze ao século XX. E, quando orgulhosamente me
mostravam sua cidade, os próprios monumentos passavam a fazer parte
do conflito.
Em meu primeiro dia em Jerusalém meus colegas israelenses me
ensinaram a identificar as pedras utilizadas pelo rei Herodes, com seus
característicos bordos chanfrados. Elas pareciam onipresentes, lembrando
eternamente um compromisso dos judeus com Jerusalém que (neste
caso) remonta ao século I a.C. — e, portanto, é muito anterior ao
surgimento do Islã. Sempre que passávamos por um canteiro de obras,
na Cidade Velha, contavam-me que Jerusalém havia se estagnado
completamente durante a dominação otomana e só voltara à vida no
século XIX, em boa parte graças a investimentos de judeus — bastava
ver o moinho construído por Sir Moses Montefiore e os hospitais
fundados pela família Rothschild. Graças a Israel a cidade prosperava
como nunca.
Meus amigos palestinos me mostravam uma Jerusalém muito
diferente. Para eles, o esplendor do H aram al-Sharif e as primorosas
.
mada-ris — escolas muçulmanas —, construídas pelos mamelucos em
suas bordas, evidenciavam o compromisso dos maometanos com a
cidade. Eles me levaram ao santuário de Nebī-Mūsā, erguido nos
arredores de Jericó para defender Jerusalém dos cristãos, e aos
extraordinários palácios que a dinastia dos Omíadas edificara nas
proximidades. Uma vez, quando passávamos por Belém, meu anfitrião
parou o carro na beira da estrada, junto à tumba de Raquel, para
informar-me de modo passional que os palestinos cuidaram desse
santuário judaico durante séculos, tendo sido muito mal recompensados
por sua piedosa dedicação.
Uma palavra reaparecia com frequência. Até os israelenses e
palestinos mais céticos salientavam que Jerusalém era “santa” para seu
povo. Os palestinos a chamavam de al-Quds, “a Santa” — designação
que os israelenses refutavam com desdém, argumentando que a cidade
foi considerada santa primeiro pelos judeus e que para os muçulmanos
ela nunca teve a mesma importância de Meca e Medina. Mas o que a
palavra santa significa nesse contexto? Como pode ser sagrada uma
cidade igual a qualquer outra, cheia de seres humanos falíveis e de
atividades profanas? Por que judeus que se declaram ateus se importam
com a cidade santa e se mostram tão possessivos em relação ao Muro
das Lamentações? Por que um árabe incrédulo se comove até as
lágrimas ao entrar pela primeira vez na mesquita de al-Aqsā? Eu
entendia por que Jerusalém é santa para os cristãos: a cidade
presenciou a morte e a ressurreição de Jesus, testemunhou o
nascimento da fé. No entanto, os fatos que plasmaram o judaísmo e o
islamismo ocorreram muito longe dali, na península do Sinai ou na
região árabe do Hedjaz. Por que um dos locais sagrados do judaísmo é
o monte Sião, em Jerusalém, e não o monte Sinai, onde Deus
entregou as Tábuas da Lei a Moisés e selou seu pacto com Israel?
Evidentemente eu me enganara ao supor que a santidade de um local
depende de suas associações com os fatos da história da salvação, o
relato mítico da intervenção divina nos assuntos humanos. Foi para
descobrir o que é uma cidade santa que decidi escrever este livro.
Constatei que, em se tratando de Jerusalém, apesar de a palavra santa
ser utilizada a torto e a direito, como se possuísse um significado
claríssimo, ela é na verdade muito complexa. Cada uma das três
religiões monoteístas desenvolveu tradições bem semelhantes a respeito
da cidade. Ademais, a devoção a um lugar santo ou a uma cidade
santa é um fenômeno praticamente universal. Os historiadores das
religiões acreditam que constitui uma das primeiras manifestações da fé
em todas as culturas. As pessoas criaram uma geografia sagrada que
nada tem a ver com o mapa científico do mundo, mas que se refere a
sua vida interior. Cidades terrenas, bosques e montanhas passaram a
simbolizar essa espiritualidade tão onipresente que parece atender a
uma profunda necessidade humana, independentemente de nossas
crenças em relação a “Deus” ou ao sobrenatural. Por vários motivos
Jerusalém tornou-se fundamental na geografia sagrada dos judeus, dos
cristãos e dos muçulmanos, que por isso mesmo têm dificuldade em
vê-la objetivamente, pois ela se tornou inseparável da concepção de si
mesmos e da realidade suprema — “Deus” ou o sagrado — que
confere significado e valor a nossa vida na terra.
Três conceitos interligados aparecem com frequência nestas páginas.
Primeiro, a noção de Deus ou do sagrado. No mundo ocidental
tendemos a uma visão antropomórfica e personalizada de Deus, de
modo que muitas vezes toda a noção do divino parece incoerente e
incrível. Como a palavra Deus perdeu seu crédito para muitos, por
causa das tolices inaceitáveis que têm sido ditas e feitas em “Seu”
nome, talvez seja melhor substituí-la pelo termo sagrado. Ao refletir
sobre o mundo, os seres humanos sempre experimentam no âmago da
existência uma transcendência, um mistério. Sentem que essa
transcendência está profundamente relacionada com eles e com o
mundo natural, mas que também os ultrapassa. Ela constitui um fato
da vida humana, não importa o nome que lhe damos — Deus,
Brahma, Nirvana. Não importa quais sejam nossas opiniões teológicas,
todos experimentamos algo semelhante quando ouvimos uma grande
peça musical ou lemos um belo poema, e nos sentimos tocados por
dentro, guindados acima de nós mesmos. Tendemos a procurar essa
experiência e, se não a encontramos em determinado local — numa
igreja, por exemplo, ou numa sinagoga —, buscamos em outro.
Vivenciado de muitas formas, o sagrado inspira medo, admiração,
entusiasmo, paz, terror, atos edificantes. Representa uma existência mais
plena, mais elevada, que nos completará. Não o vemos apenas como
uma força “externa”, mas o sentimos também nas profundezas de nosso
ser. Precisamos, entretanto, cultivar a percepção do sagrado, como
fazemos com qualquer experiência estética. Em nossa sociedade
moderna, secular, nem sempre tal percepção é prioritária e, assim,
como qualquer aptidão não utilizada, ela tende a embotar-se. Em
sociedades mais tradicionais, a capacidade de apreender o sagrado
reveste-se de extrema importância. Na verdade, muitas vezes achamos
que sem a percepção do divino a vida não vale a pena.
Isso se deve, em parte, a nossa visão do mundo como um vale de
lágrimas. Somos vítimas de desastres naturais, mortalidade, extinção,
injustiça, crueldade. A busca religiosa geralmente começa com a
constatação de que alguma coisa deu errado, de que, como disse Buda,
“a existência é errônea”. Além dos choques que todos experimentamos
no plano físico, enfrentamos sofrimentos pessoais que transformam
contrariedades aparentemente insignificantes em derrotas quase
insuportáveis. Uma sensação de abandono faz com que experiências
como luto, divórcio, rupturas ou até mesmo a perda de um objeto
querido pareçam às vezes parte de um mal básico e universal. Com
frequência esse desconforto interior se caracteriza por um sentimento
de separação. Parece que nos falta alguma coisa, que nossa existência é
fragmentada e incompleta, que a vida não devia ser assim e que
perdemos algo essencial a nosso bem-estar — ainda que tenhamos
dificuldade para explicar isso racionalmente. Essa sensação de perda já
foi expressa de muitas maneiras. Evidencia-se na imagem platônica da
alma gêmea da qual fomos separados ao nascer e no mito universal do
paraíso perdido. Em séculos passados, homens e mulheres voltaram-se
para a religião a fim de mitigar essa dor, encontrando remédio na
experiência do sagrado. No Ocidente moderno, recorre-se
eventualmente à psicanálise, que expressa num idioma mais científico
essa consciência de uma separação primordial, relacionando-a com
lembranças do ventre materno e com o trauma do nascimento. Seja
como for, essa ideia de separação e o desejo de algum tipo de
reconciliação estão na própria essência da devoção a um local sagrado.
O segundo conceito que precisamos discutir é o de mito. Quando o
homem tentou falar sobre o sagrado ou sobre a dor da condição
humana, não conseguiu expressar sua experiência em termos lógicos,
discursivos, e recorreu à mitologia. Mesmo Freud e Jung, que foram os
primeiros a mapear a chamada busca científica da alma, empregaram os
mitos da Antiguidade clássica ou da religião ao tentar descrever esses
eventos interiores e elaboraram também alguns mitos próprios. Hoje a
palavra mito tem sido um tanto aviltada em nossa cultura, que em
geral a utiliza para designar algo que não é verdadeiro. Fatos que são
“apenas” mitos não merecem consideração. É o que ocorre no debate
acerca de Jerusalém. Os palestinos argumentam que não existe
nenhuma evidência arqueológica do reino judeu fundado por Davi e
que nunca se encontrou um único vestígio do Templo de Salomão.
Com exceção da Bíblia, nenhum texto contemporâneo menciona o
reino de Israel — o qual, portanto, provavelmente não passa de
“mito”. Os israelenses consideram absurda e não demonstrável a
história de que o profeta Maomé subiu ao céu a partir do H aram al-
.
Sharif de Jerusalém — um mito que está no próprio cerne da devoção
dos muçulmanos a al-Quds. Concluí que isso denota ignorância. A
mitologia surgiu não para descrever fatos historicamente verificáveis, e
sim para tentar expressar seu significado interior ou ressaltar realidades
Description:Como que saГda da pena de Borges ou de Calvino, JerusalГ©m guarda muito de fantГЎstico e imaginГЎrio em seus muros milenares. Mas a cidade toma contornos e significados prГіprios aos olhos de cada uma das trГЄs principais religiГµes do Ocidente: o islamismo, o judaГsmo e o cristi